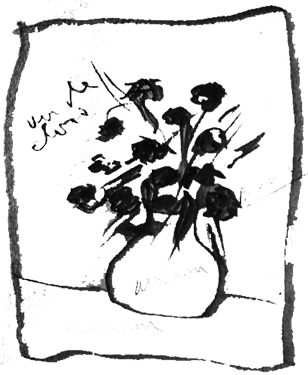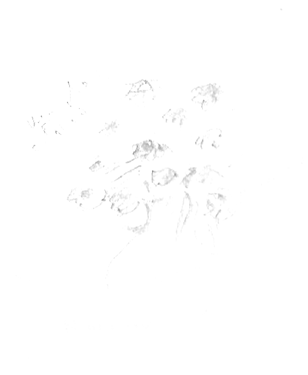“Máquinas de moer gente” – assim o antropólogo Darcy Ribeiro caracterizou, em seu derradeiro livro, O povo brasileiro, os engenhos de açúcar no Nordeste colonial. Este epíteto pode ser facilmente estendido para outras indústrias no Brasil e no mundo; e cabe com absoluta propriedade para a indústria da carne, esta gigantesca máquina de moer – e de abater, retalhar, decepar, explorar e adoecer – “gentes humanas” e animais.
O livro de Míriam Stefanuto descortina de que modo os Kaingang na Terra Indígena Toldo Chimbangue, em Chapecó, oeste do estado de Santa Catarina, lidam com as contradições inerentes às relações contemporâneas com os animais – ao mesmo tempo seres sociais, sencientes, com quem se convive e dignos de consideração, e mercadorias anônimas a serem produzidas em série para, em seguida, serem mortas, desmontadas e comercializadas em escalas industriais para abastecer o gosto pela carne e o consumo crescente de produtos de origem animal. Assim, ao trabalho serializado e desvalorizado nas cidades, este grupo Jê meridional no oeste catarinense contrapõe a vida nas aldeias e a companhia dos animais como seus “enfeites”; exatamente como fazem os Karitiana, em Rondônia, com os quais eu desenvolvo meu trabalho. Nas aldeias impera a liberdade – liberdade de criar, de plantar, de se expressar, numa clara alusão ao trabalho assalariado como cativeiro, em uma filosofia que conecta filósofos profissionais e selvagens, os povos indígenas e os mais destacados críticos do capitalismo. É esta crítica, com toda sua potência expressa no elogio do cotidiano aldeão – emprestando as palavras de Joanna Overing –, que Míriam nos faculta ouvir aqui. Com ela podemos escutar o que dizem os Kaingang sobre si mesmos, sobre nós, sobre os animais e, talvez, também o que dizem os próprios animais através da voz dos moradores e das moradoras do Chimbangue.
A ausência de voz, de fala articulada, vem desde há muito definindo a condição animal. Forçoso é reconhecer que falta semelhante também incide, de forma trágica, sobre muitos grupos humanos, obscenamente privados das condições de expressar desejos, críticas e intenções. Nesse sentido, animais e trabalhadores – indígenas e não indígenas – encontram-se simultaneamente em lados opostos nos encontros agonísticos que se desenrolam na área suja dos abatedouros; e também do mesmo lado, na partilha da carência de serem ouvidos e de terem respeitados seus direitos mais fundamentais: o direito a uma vida, e a uma existência digna. Talvez as consequências para uns, os animais, sejam muito mais brutais; mas quem definirá se uma morte rápida que segue a uma vida curta plena de sofrimento é melhor ou pior do que uma longa trajetória de humilhação e privações? Para mim, ambas são inadmissíveis.

Com uma coragem admirável, Míriam já havia, em sua iniciação científica, encarado uma difícil pesquisa em um frigorífico no interior paulista. Desafio para poucos, reconheço que a jovem pesquisadora o enfrentou muito bem. E foi por meio dele que ela produziu resultados significativos – alguns dos quais podendo ser apreciados no Segundo Capítulo deste livro –, que constituíram o fundamento para expandir a análise (ao buscar os trabalhadores fora de seu tétrico local de trabalho) em sua investigação de mestrado, que está na origem deste livro. Chegar aos Kaingang abriu, ainda, a possibilidade de seguir refletindo sobre as variadas modalidades de violência infligidas sobre seres humanos e não humanos que têm sua sorte cruzada entre facas afiadas e baixíssimos salários, entre dardos cativos e moléstias ocupacionais. Aí conectam-se bois e índios privados de quase tudo; sobretudo, da possibilidade de protestar contra sua situação.
Este livro de Míriam busca devolver, de uma só vez, algo desta fundamental capacidade de expressão aos Kaingang e aos animais, ambos sistematicamente violentados pela indústria da carne no oeste catarinense, tal como acontece com outros grupos minorizados, de humanos e de não humanos, em outras partes do País e do restante do planeta. E nos convida a refletir, ademais, se todos nós não trabalhamos quietos, dóceis, sem reclamar. Se, afinal, todo trabalho, animal e humano, não constitui trabalho calado.
Felipe Vander Velden
Departamento de Ciências Sociais
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
Universidade Federal de São Carlos