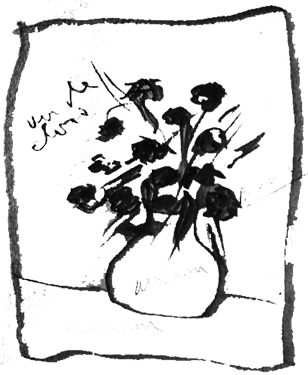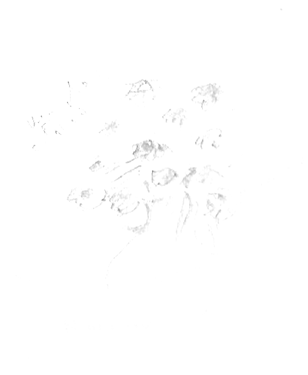O Brasil acordou de sonos intranquilos, na manhã de 28 de junho de 2021, com a notícia de que o perigosíssimo meliante que durante um tempo provocou a morte de pessoas e que morava na região de Brasília finalmente havia sido preso.
Rojões, panelas e gritos de glória-le-lei tomaram os ares de todas as cidades. Finalmente, o Procurador Geral da República, saindo de sua letargia, pedira ao Supremo Tribunal Federal a prisão do autor intelectual de tantas mortes e o Ministro da Corte a quem fora distribuído o pedido, no exercício de suas competências constitucionais e de sua responsabilidade política, determinara a prisão do algoz do povo brasileiro.
Bolsonaro havia sido preso e encaminhado para a Penitenciária Federal mais distante existente, e lá aguardaria, sem direito à liberdade provisória, o julgamento por crimes contra a humanidade e o genocídio de indígenas e quilombolas. Ufa! O Brasil finalmente se livrara do mal que o carcomia e poderia adotar políticas adequadas de enfrentamento da pandemia: vacina no braço de todos, comida nos pratos dos mais necessitados e medidas de prevenção sanitárias realmente adequadas.
Não correríamos mais o risco de um governador genuflexo à política de extermínio de seu chefe permitir, em plena ascensão da terceira onda da pandemia, a realização de reuniões festivas com até 999 pessoas e distanciamento de dois metros. Ou um governo wilsonlino que, para fugir de graves acusações de desvio de recursos públicos para o enfrentamento da pandemia, permitiu que o povo de seu Estado fosse usado como cobaia com o tratamento precoce e desabastecimento de oxigênio.
Mas não. O que levou a Giovanna Dourado, jornalista da Rede Globo em Goiás, a fazer a dancinha macabra de regozijo, ou a centenas de pastores evangélicos a distribuírem pelo WhatsApp a foto ensanguentada de um jovem que acabara de ser baleado ou ao Presidente da República a registrar uma mensagem incompatível com o decoro da função – CPF CANCELADO, em caixa alta, que na linguagem das mídias sociais é o mesmo que gritar – foi o fato de Lázaro Barbosa, o “serial killer de Brasília” ter sido morto em enfrentamento com a polícia após uma “caçada” de 20 dias.
Durante esse período, os meios de comunicações no Brasil, com discursos fantasiosos e mirabolantes sobre o sujeito, criaram, como usualmente fazem, um discurso perigosista e de disseminação do medo. Ao final, soube-se que, nada obstante Lázaro ser mateiro e caçador, não detinha poderes sobre-humanos para se ocultar da polícia em meio à mata, mas um empregador, um fazendeiro que supostamente usava de seus serviços como pistoleiro para ameaçar os moradores do entorno à sua fazenda e baratear o preço da terra, ou que, apesar de ter sido representado como uma besta-fera, tinha amigos, conhecidos e parentes que se arriscaram para lhe prestar ajuda em sua fuga tresloucada da polícia. Como o sabe qualquer trabalhador da segurança pública no mundo, até o mais furibundo dos meliantes tem uma mãe que fica sob o sol quente na fila de uma penitenciária para lhe visitar e levar viveres.
Penso que tudo ainda está muito cru, muito embotado pelas narrativas fantasiosas ou belicistas para compreendermos bem como ocorreu o desfecho que levou à morte de um rapaz que, embora tenha tentado se encontrar com Jesus quando mais jovem, encontrou a morte pela crivação de inúmeras balas em seu corpo. Mas o que até agora ocorreu e foi narrado nos permite fazer alguns questionamentos importantes:
1) O que leva a pessoas comuns, muitos que inclusive se identificam como cidadãos de bem e evangélicos, duas qualidades que quando anunciadas num diálogo nos fazem querer fugir da presença da pessoa, a comemorarem a morte de um rapaz que, apesar de seu comportamento e de sua personalidade errática, tinha o direito à vida como qualquer outra pessoa? E mais grave ainda, comemorar utilizando o provecto nome da divindade a que cultuam?
Para W. E. B. Du Bois, esse comportamento se explica por aquilo que ele chama de “salário psicológico”: em sociedades pauperizadas e de baixo desenvolvimento civilizacional, o homem comum admite como normal os tratamentos desumanos e degradantes contra minorias e criminosos, em razão de eles se identificarem com as elites econômico-políticas que têm o monopólio das riquezas e da violência política. Vera Malaguti emprega a expressão “adesão subjetiva à barbárie”. O cidadão de bem que vai à igreja aos domingos – sem máscara, é claro – aderiu à barbárie e não à mensagem do evangelho que, quando muito, foi diluído num discurso de prosperidade e coaching que lhe dá a certeza de ser merecedor de tudo, inclusive do poder de julgar e condenar os outros.
2) De semelhante forma, os meios de comunicação mostraram como os policiais envolvidos na perseguição a Lázaro comemoravam após o fatídico desfecho. Seja a morte de uma pessoa ou um gol na cancha do quartel, o que importa é o resultado. Gol ou CPF cancelado, não importa.
O que é interessante desse tipo de comportamento é que quando ele é cotejado com o que ocorre em Estados que aplicam a pena de morte, esse modo de agir dos policiais é, no mínimo, esdrúxulo, quando não assustador. Na Indonésia, um país que vive sob uma forma autoritária de governo, a pena de morte é executada por fuzilamento, adotando-se o seguinte método: o condenado é amarrado com os braços para trás em um pelourinho.
Sobre o seu coração é afixado um alvo, onde os atiradores deverão acertar. São seis os atiradores de elite, municiados com fuzis de alta-precisão. No entanto, somente um fuzil tem projetil de verdade, os outros cinco de festim. A finalidade é que, quando todos eles atirarem ao mesmo tempo, nenhum deles saiba quem acertou o condenado, e com isso se mitiga os danos psicológicos. Está fora de questão qualquer tipo de comemoração. Por contraste, o que poderíamos dizer da polícia que age em sentido diametralmente inverso em um Estado democrático de direito?
3) Quando a notícia da morte de Lázaro se confirmou, e em oposição àqueles que fruíram do salário psicológico de sua adesão subjetiva à barbárie – ouvi um aleluia, irmãos! Ouvi um amém! – um outro coro se iniciou: foi execução, ele foi eliminado, ele foi abatido, expressões que em direito identificam aquilo que se chama de execução extrajudicial.
O que chama a atenção é a suspeição generalizada, a quase certeza, de que a polícia brasileira mata de forma impune, que ela, no limiar entre o estrito cumprimento do dever legal e a execução extrajudicial, ela certamente atravessa a linha. Que não se pode, enfim, confiar na polícia.
O que era sabido? Por que existe essa desconfiança generalizada sobre a ação da polícia? Por que se sabe que quando a polícia sobe o morro o sangue descerá em forma de cascata, inclusive de crianças que são abatidas pelas balas perdidas que sempre encontram o corpo preto e pauperizado? O que partilhamos como certeza que nos faz saber o “fim”, nada obstante os relatórios, processos e pareceres legais que dizem o contrário?
Penso que a lição é essa: uma sociedade cindida entre aqueles que louvam a violência policial e aqueles que desconfiam absolutamente de sua legitimidade não chegará nunca ao fim do poço, pois o poço, aquilo que chamamos de barbárie, não tem fundo. É um buraco que come e carcome nossa civilidade.
Nessa sociedade, a distinção entre vítimas e algozes se esfuma até o limite daquilo que Hobbes identificou como estado de natureza, aquela em que o homem é o lobo do homem e a morte impune é o único benefício que se recebe do salário psicológico de sua adesão à barbárie.
Marcus Oliveira é professor de Direito e coordenador do Jus Gentium na UNIR.
Fonte: MIDI / UNIR.